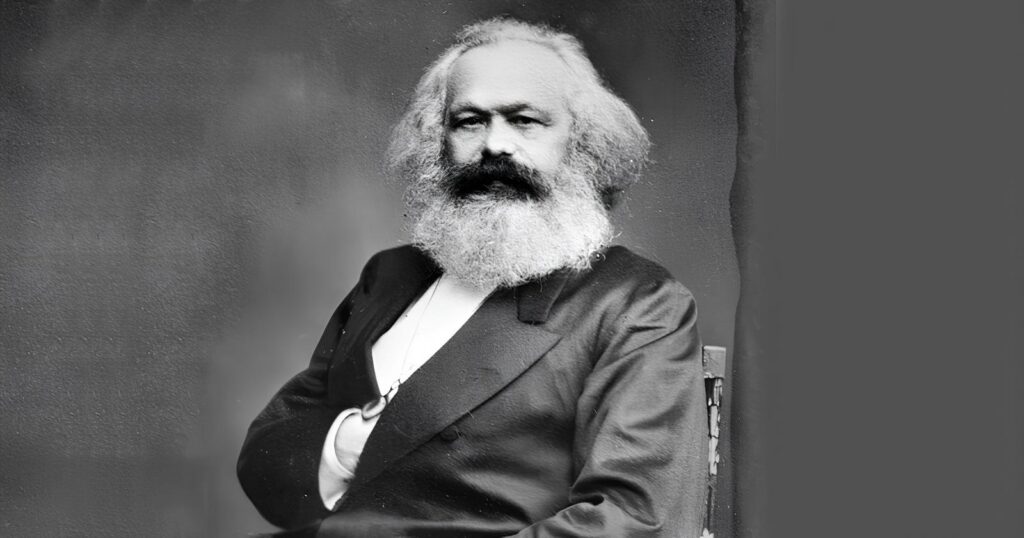Recentemente, tivemos um debate sobre a expressão “marxismo ocidental” em uma das análises políticas de sábado. O tema chamou minha atenção porque, por coincidência, eu estava finalizando a leitura do livro em que a expressão aparece. Por isso, escolhi esse conceito como ponto de partida para a reflexão que segue.
O termo foi cunhado pelo historiador inglês Perry Anderson em seu ensaio Considerações sobre o Marxismo Ocidental, publicado em 1979. Anderson é professor e foi editor da revista New Left Review, importante publicação criada em 1960, que estabeleceu na Inglaterra um campo de debate marxista voltado às questões do pós-Guerra e ao período posterior à morte de Stalin na União Soviética. A New Left Review segue em circulação até hoje e mantém-se como referência nos estudos marxistas acadêmicos.
O ensaio de Anderson é particularmente interessante para leitores que, como eu, tiveram uma formação marxista fragmentada, mediada por ementas dispersas de disciplinas distintas dentro da universidade.
Esse tipo de formação, restrito quase exclusivamente ao ambiente universitário, é marcado pela mediação do pensamento importado da Europa ou dos Estados Unidos, com pouca produção teórica local reconhecida como referência.
Além da fragmentação do aprendizado de acordo com os programas das disciplinas e os recortes dos projetos de pesquisa, somos orientados a acessar o marxismo quase sempre por meio de vozes secundárias. Adorno diz, Marcuse diz, Althusser diz, Benjamin diz, Jameson diz… e assim por diante.
Ao longo da minha trajetória acadêmica até o doutorado, não houve professor ou orientador que dissesse: leia sobre o materialismo histórico-dialético neste ou naquele texto de Marx e Engels. O estudo foi sistematicamente mediado, indireto.
É nesse ponto que o texto de Perry Anderson se mostra elucidativo. O autor se propõe a refletir sobre os caminhos do materialismo histórico após o desaparecimento da primeira geração de teóricos marxistas.
Ele inclui, nesse recorte, o período que vai da produção de Marx e Engels até a morte de Rosa Luxemburgo. Entre os autores considerados estão também Lênin e Trotsky, este último apontado por Anderson como notavelmente pouco estudado.
Até esse momento histórico, sustenta o autor, teoria e prática revolucionária estavam profundamente imbricadas. Os autores que nos legaram textos fundamentais eram também militantes, vinculados a partidos políticos com programas revolucionários, como ocorreu na URSS.
Com as duas guerras mundiais, esse quadro se alterou profundamente na Europa. De um lado, o stalinismo passou a censurar qualquer avanço programático. De outro, o capitalismo incorporou e domesticou a teoria crítica, conferindo-lhe prestígio institucional e verniz acadêmico.
O materialismo histórico passou, então, a se converter em uma atividade pequeno-burguesa de produção teórica – em grande medida voltada à cultura -, legitimando a criação de disciplinas, a alocação de verbas e a publicação de livros reconhecidos como “científicos”.
É nesse contexto que se insere a alemã Escola de Frankfurt. Anderson observa, por exemplo, que Theodor Adorno, célebre teórico da indústria cultural, jamais teve participação em partidos políticos ou qualquer ambição revolucionária.
É a essa geração de teóricos acadêmicos da Alemanha, França, Inglaterra e Itália que Anderson atribui o rótulo de “marxismo ocidental”. O termo, como se discutiu na análise política da semana, carrega contradições evidentes.
Uma delas diz respeito ao uso da palavra “marxismo” para designar a totalidade da produção acadêmica como se fosse a única herdeira legítima da tradição teórica da geração anterior. Outra refere-se ao recorte geográfico, que estabelece uma oposição arbitrária entre Ocidente e Oriente, especialmente se considerarmos que o chamado “Ocidente” se restringe, na prática, a quatro países europeus.
Apesar dessas limitações, considero que o ensaio de Anderson cumpre um papel importante ao conferir sentido histórico a esse corpo teórico fragmentado. Ele formula questões centrais sobre a primazia da universidade, pretensamente neutra, em detrimento da prática política revolucionária, organizada em partidos, sindicatos e associações de trabalhadores.
Além disso, o texto suscita uma reflexão crítica sobre quem define o que pode ou não ser reconhecido como teoria legítima no interior da instituição acadêmica. Anderson, no entanto, não avança plenamente nesse diagnóstico: seria necessário colocar a luta de classes no centro da análise para compreender o que efetivamente impede que as Ciências Humanas avancem o materialismo histórico de maneira mais contundente.
Como instituições do Estado burguês, as universidades estão necessariamente submetidas a mecanismos de controle sobre o que é passível de ser pesquisado, ensinado e legitimado.
Em 1983, Perry Anderson publicou um segundo ensaio, Nas Trilhas do Materialismo Histórico, que funciona como complemento ao trabalho anterior.
Nesse texto, o autor realiza uma crítica importante ao pós-estruturalismo francês, matriz teórica que nos legou nomes como Foucault, Derrida, Lacan e Deleuze. Trata-se de um campo que ainda hoje domina os círculos acadêmicos nacionais e internacionais. É desse arcabouço que emerge o identitarismo, amplamente financiado por verbas institucionais, bolsas de pesquisa e dispositivos de legitimação científica.
Mesmo nesse segundo ensaio, Anderson permanece, de forma contraditória, dentro dos limites da crítica e evita enfrentar diretamente a questão da luta de classes, eixo central do marxismo. Essa limitação enfraquece sua posição e impede a exposição das contradições que inevitavelmente conduziriam à constatação da capitulação desses autores.
Um exemplo é a citação a As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, livro que li há alguns anos. Trata-se de uma obra enfadonha, essencialmente um tratado de linguística. Após cerca de 400 páginas de abstrações, Foucault dedica apenas três parágrafos à crítica de Marx. É nesse ponto, e apenas nele, que se revela o verdadeiro objetivo do livro e o intento político do pensador francês.
Essa crítica, evidentemente, falha. O próprio Anderson reconhece que ainda não surgiu, no campo da filosofia, nada que consiga refutar o materialismo histórico-dialético como método científico de análise da realidade.
De concreto, temos o fato de que essa cisão entre teoria e prática revolucionária já ultrapassa um século e persiste até hoje. O vasto corpo teórico acumulado desde o pós-Guerra continua ativo, inclusive no Brasil, mas permanece restrito ao ambiente acadêmico e de difícil acesso à classe trabalhadora.
O aparato teórico pós-estruturalista dos anos 1960, focado na linguagem, em sistemas abstratos e na psicanálise, tem impactado diretamente os programas de muitos partidos políticos de esquerda no Brasil. Atualmente, até mesmo essas ideias estão mediadas, com a importação da produção das universidades americanas.
Sem as armas da contradição e da luta de classes, essas esquerdas não conseguem vencer debates elementares diante da indigência intelectual bolsonarista. As poucas exceções são aquelas que dominam o materialismo histórico-dialético como método de análise.
Vivemos um momento histórico em que as contradições dentro das Ciências Humanas parecem cobrar seu preço. Pode a universidade quebrar com essa cisão de maneira científica e irrefutável?
O trabalho de Anderson permanece como um ponto de partida interessante para quem deseja enfrentar essa lacuna histórica.
Em especial, aqui no Brasil.