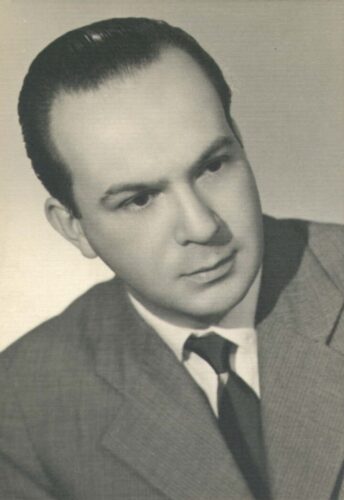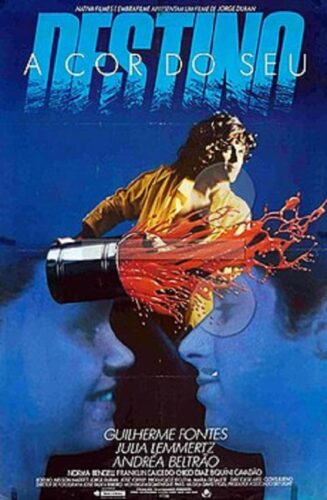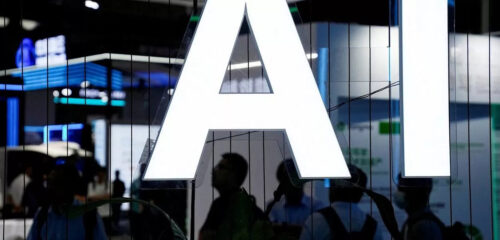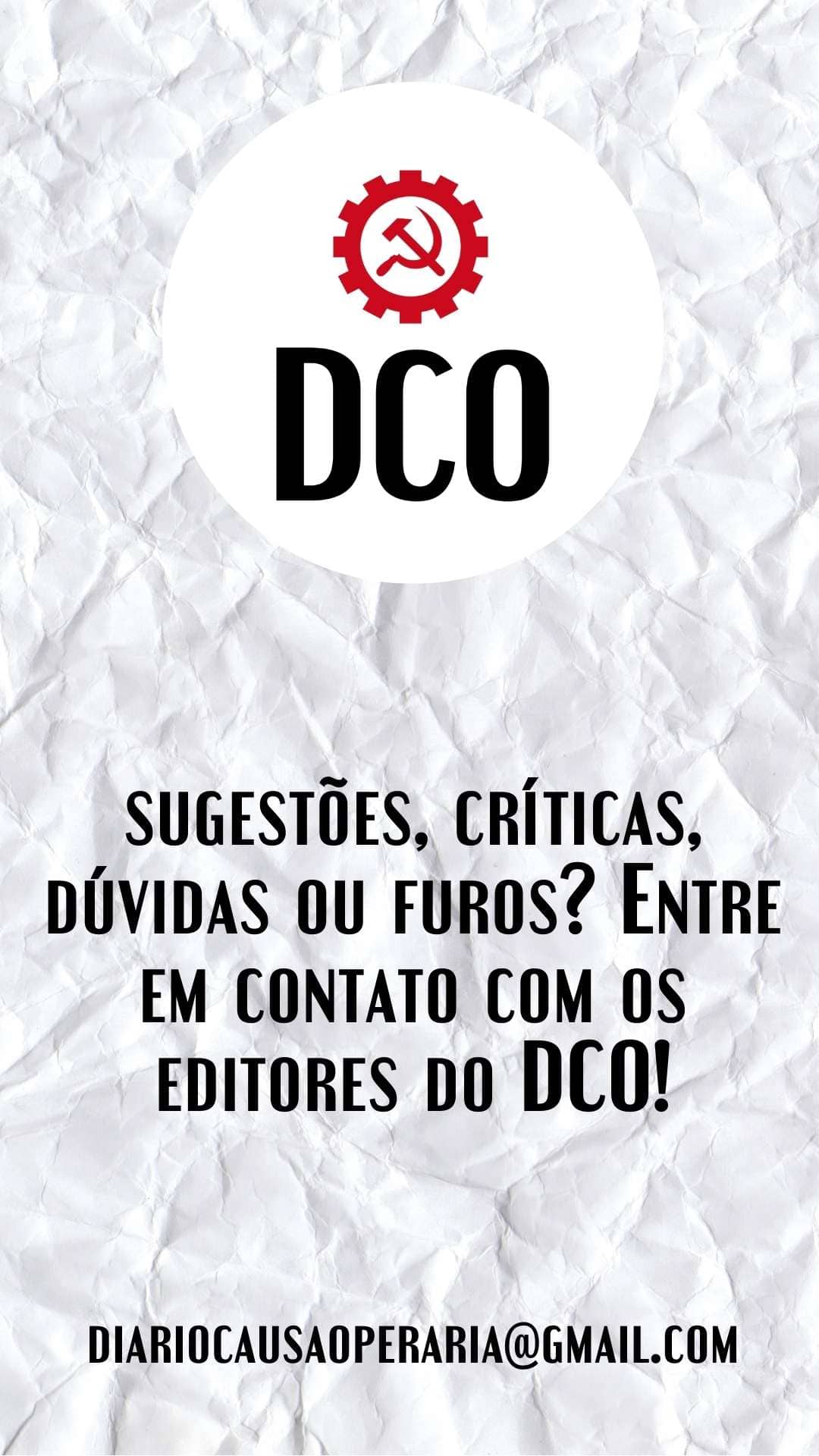Raymond Williams, intelectual marxista galês, foi um dos mais importantes críticos culturais do século XX e um dos principais nomes do movimento que ficou conhecido como Nova Esquerda britânica nos anos 1960. Sua obra foi fundamental para renovar a crítica materialista no Reino Unido ao enfatizar como a cultura é um espaço essencial para entender e transformar a sociedade. Williams defendia que cada época expressa, por meio da cultura, um modo particular de perceber e sentir as mudanças latentes na conjuntura histórica — algo que ele chamou de “estrutura de sentimento”. Em linhas gerais, essa estrutura revela sentimentos comuns e contraditórios, ainda não completamente articulados em ideias explícitas, mas presentes nas produções culturais. O cinema, por exemplo, como parte da cultura no capitalismo, é capaz de capturar essas estruturas e apontar para onde estamos indo.
Não é segredo que o imperialismo atravessa uma crise histórica que pode ser definitiva. Essa crise tem sido apontada de forma contundente por Rui Costa Pimenta, em suas análises políticas semanais e em outros programas. Diante desse cenário, é possível perceber que, mesmo de forma desarticulada, fragmentada e até simplista, o cinema hollywoodiano tem abordado essa crise por meio de filmes comerciais que já não conseguem mais disfarçar o abismo que se abre sob seus próprios pés.
Nos últimos anos, escrevi diversas críticas no Diário da Causa Operária sobre obras que, apesar das diferenças entre si, têm algo em comum: o tema do fim do mundo. Na verdade, de maneira enviesada, elas retratam a crise do capitalismo contemporâneo dentro dos Estados Unidos. Em Não Olhe para Cima (2021), o enredo gira em torno da incapacidade das elites de provocarem uma mudança real diante de uma catástrofe iminente e da impotência das classes subalternas. Em O Menu (2022), analisei como a gastronomia elitizada e espetacularizada reflete a cultura pós-moderna, tradução da identidade neoliberal, servindo de metáfora para a decadência e o vazio dessa forma cultural. Já em Megalópolis (2024), apontei que o filme é um pastiche que sinaliza, quando muito, o fim do próprio cinema hollywoodiano. Em O Mundo Depois de Nós (2024), enfatizei como, em sua alienação, a película representa os conflitos internos da sociedade americana, causados por suas próprias contradições.
Esses filmes não compõem um movimento organizado ou coerente entre si, mas a recorrência temática que apresentam — especialmente em torno do colapso social e do fim do mundo — revela uma tendência latente, uma espécie de estrutura de sentimento que expressa, ainda que de forma fragmentada, a percepção de crise no presente. Compará-los ao cinema de cem anos atrás nos permite compreender melhor como essa estrutura mudou ao longo do tempo, refletindo diferentes conjunturas históricas e modos de sentir a realidade.
Pensemos em pioneiros como Buster Keaton e Charles Chaplin. Em Tempos Modernos (1936), Chaplin interpreta seu icônico personagem Carlitos enfrentando a rotina exaustiva de uma fábrica automatizada. O personagem é engolido pelas engrenagens da produção em série e, após uma crise nervosa, inicia uma jornada por diferentes subempregos, revelando o colapso psicológico e social gerado pela mecanização do trabalho. Já em A Corrida do Ouro (1925), o cineasta encarna um garimpeiro solitário que parte para o Alasca em busca de fortuna, enfrentando a fome, o frio e o isolamento. O filme expressa a precariedade extrema e o sonho ilusório do enriquecimento em sua forma mais crua.
Em O Navegador (1924), Keaton interpreta um jovem muito rico e mimado que, por acidente, acaba à deriva em um transatlântico vazio junto com uma moça da alta sociedade. Isolados do mundo, precisam aprender a lidar com as tarefas cotidianas e sobreviver apenas com os recursos disponíveis a bordo. Já em Sherlock Jr. (1924), o cineasta vive um projecionista de cinema que enfrenta várias dificuldades. Ao dormir durante uma projeção, entra no mundo do filme exibido e assume o papel de um detetive, numa mistura de realidade e ficção absolutamente genial, além de apresentar uma crítica aos limites sociais impostos à classe trabalhadora.
Tanto Keaton quanto Chaplin foram mestres em usar formas extremamente populares — como o teatro de variedades e o circo — para contar suas histórias, entremeadas com muito humor (que, para muitos, soa até ingênuo nos dias de hoje), sem abrir mão da crítica social concreta e didática. Ambos foram enormes sucessos em seu tempo e influenciam cineastas até hoje. Com Carlitos, Chaplin coloca um personagem à margem da sociedade como protagonista, algo completamente diferente dos enredos mais convencionais. É pelos olhos desse vagabundo que enxergamos as contradições do mundo. É importante notar que a Segunda Guerra Mundial e a crise de 1929 mudaram tudo isso para sempre.
Atualmente, os filmes citados — e tantos outros que poderiam estar nessa lista — expressam a alienação e a decadência não só como produtos de entretenimento da classe dominante, mas como reflexo das ideias que os originaram, mostrando que o problema está na fonte. Em meu texto sobre Megalópolis, apontei a decadência de um cineasta do porte de Francis Ford Coppola, que não consegue compreender as contradições de um mundo que ele mesmo enxerga como em estágio terminal. É como se a sociedade americana sentisse os enormes problemas do sistema econômico que a sustenta, mas ainda não conseguisse articular os motivos concretos dessa percepção. Em algum momento, o grito preso na garganta se fará ouvir.
A trajetória rumo a esse futuro ainda não está definida — e certamente não será fácil. Reconhecer, por meio desse cinema, que estamos em meio a uma transição profunda é o primeiro passo para fazê-la avançar. Essa superação exigirá esforço coletivo, organização política e muita luta. Os filmes de hoje nos ajudam a enxergar a realidade do fim do capitalismo, mas cabe a nós, na prática política diária, transformarmos esse fim na materialização da revolução.
Para quem deseja se aprofundar mais no conceito de estrutura de sentimento de Raymond Williams, recomendo a leitura de Marxismo e Literatura e Cultura e Sociedade, ambos disponíveis em português.