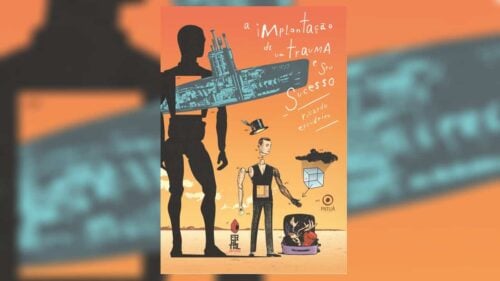A esquerda identitária é mestra em criar malabarismos linguísticos para obnubilar suas intenções pró-imperialistas, e assim estabelecer uma política em favor da manutenção do regime político vigente e dos interesses da burguesia. O exemplo mais notório e atual das peripécias do identitarismo é o uso abusivo, e sem nexo, do pronome neutro, a fim de atender os interesses das elites econômicas em manter o analfabetismo formal e funcional da população brasileira. Esse é um dos exemplos mais debatidos, mas há um falso dilema dos identitários, que é a “luta antirracista”. Quem a faz realmente?
Alguns partidos têm atuado em favor do que chamam “pautas por visibilidade” para driblar o termo identitarismo, que agora tentam associar ao racismo, escondendo suas reais pretensões como arma geopolítica nas mãos dos grandes capitalistas, que têm incorporado artificialmente as “reivindicações” de partidos e movimentos sociais. Partidos da esquerda pequeno-burguesa recentemente, vêm atuando direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente em favor do oligopólio midiático, na diluição da classe trabalhadora, em detrimento de pautas unificadas de luta popular.
Recentemente, os membro dos partidos afeitos às questões pós-estruturalistas e identitárias vêm sendo bajulados, e também servido aos interesses da direita, ora escrevendo em veículo de comunicação vinculado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), o partido de Tabata Amaral, Marcelo Freixo, Márcio França e outras figuras liberais, elogiado muito mais por figuras antimarxistas, adeptas do método “decolonial”, que nada mais é somente a negação “do eurocentrismo”, não oferecendo aos trabalhadores uma visão revolucionária. A partir dessa atuação, o prêmio é sempre uma ponta na mídia burguesa que é a favor de todas as reformas contra o povo.
Em geral, os adeptos das teorias decoloniais estão mais interessados em substituir a luta política concreta por uma luta contra os adeptos da práxis revolucionária, nem que para isso, recorram a acusações de racismo a quem poderia formar frente única. A política identitária não poupa esforços para se mostrar nas redes sociais, ao invés de travar uma luta real, concreta, ou fazer uma leitura mais séria dos textos que divulgam.
Lênin nos demonstrou em “Dogmatismo e liberdade de crítica”: tanto “socialistas” como “democratas” bradavam o termo “liberdade de crítica”, mas denuncia que em plena proletarização das massas, Bernstein tinha propósitos reformistas pela negação do socialismo científico e da luta de classes. Contudo, nos dias de hoje, alguns capitulam atuando em colunas da grande imprensa, buscando um espaço de representação. Essa postura além de ser a negação do marxismo, é a negação da crítica, praticada através de cancelamento de marxistas.
Foi nas ruas, nas redes sociais e até mesmo na grande imprensa, que os partidos da esquerda antipetista participaram amplamente das jornadas que levaram ao Golpe de Estado, de onde emergiram “celebridades” que se tornaram meros fantoches dos grande meios de comunicação e, portanto, do imperialismo. Se a postura de um militante não tiver fundamentos sólidos, não podemos combater o regime político, que inclui a grande imprensa e toda sua ideologia, que progressivamente incorpora o identitarismo a fim de conseguir controlar quase todos os espectros políticos (incluindo setores da esquerda pequeno-burguesa).
New Left Review: uma Operação de Bandeira Falsa e manobra do imperialismo

Primeiramente, o que é uma Operação de Bandeira Falsa?
De modo simplificado, de acordo com o Wikipedia (porém descrito em muitos analistas de Geopolítica):
Operação de bandeira falsa (False flag em inglês) são operações conduzidas por governos, corporações, indivíduos ou outras organizações que aparentam ser realizadas pelo inimigo de modo a tirar partido das consequências resultantes. O nome é retirado do conceito militar de utilizar bandeiras do inimigo. Operações de bandeira falsa foram já realizadas tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz (https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_de_bandeira_falsa)
Os propagadores das teses pós-estruturalistas, que se proliferaram a partir de uma grande operação do imperialismo, em torno da New Left Review (Revista Nova Esquerda) [ https://newleftreview.org/ ], fundada em 1960, no Reino Unido, no contexto da Crise de Suez de 1956, a fim de neutralizar o Labour, que avançava suas fileiras a partir de uma perspectiva mais crítica que a New Left, que acusou o partido de ter uma atuação “ortodoxa” e, deste modo, seria “incapaz de atingir as massas trabalhadores no período que se sucederia entre os anos 1960 em diante.

Por sua vez, a New Left, inspirada em um “novo marxismo” ou “métodos ecléticos” como na “Escola de Frankfurt” e atuação de Universidades de caráter “progressista” dos Estados Unidos, Alemanha e França, tradicional centro de formação de autores anti-marxistas ou pós-marxistas, como o neoliberal Michel Foucault ou mesmo Jean Paul Sartre e seu “existencialismo”. Pela revista passaram nomes como o “brasilianista” Stuart Hall e Perry Anderson. Este último vinculado à distorção do marxismo a serviço de atenuar o pensamento político das esquerdas no mundo, especialmente grupos e partidos de tipo revolucionário.
Em suma, a ideia da New Left era retirar a literatura revolucionária no âmbito do marxismo, em um período de radicalização do Labour e setores políticos críticos da política imperialista no mundo inteiro (não que o Labour fosse revolucionário àquela época, mas incomodou). A centralidade da crítica desse movimento New Left, criado em âmbito acadêmico, com apoio de fundações, espalhou-se, atingindo a esquerda mundial a partir da acusação de que a ciência marxista era “estruturalista”, cujo fulcro analítico estaria edificado a partir de estruturas duais e meramente “materialistas”, a fim de estabelecer o comunismo que, na visão dessa nova esquerda, seria de impossível implantação. Para o movimento New Left, era preciso fazer reformas políticas mais “urgentes”, pontuais e dinâmicas, ante o “Walfare State” alcançado no pós-Guerra na Europa, Estados Unidos e Japão às custas do que se chamava de Terceiro Mundo.
Temas como literatura; estética; semiótica; cinema; mídia; mundialização/globalização (ao invés de imperialismo); crítica cultural; gentrificação; teoria da regulação (“fusão” do marxismo com keynesianismo na economia espacial); “pautas por visibilidade” (visibilidade apenas) entre outras fragmentações a partir das lutas anti-imperialistas e anticapitalistas seriam incorporadas, uma a uma pelos próprios regimes políticos e pelo capital. Cada tema passou a ser adotado, isoladamente, a partir do questionamento à “modernidade”, que, de acordo com os autores da New Left Review, seria rígida, conservadora e não diversa, sendo analisada como um período que ficou para trás e cujas forças produtivas já estariam atuando no sentido de melhoria das condições de vida de todos. Como então ficaria a América Latina?
No bojo dessa operação, além dos precedentes da New Left situada na Escola de Frankfurt, Universidade de Harvard, Massachussets Institute of Tecnology (MIT), Universidade da California (UCLA), as Nações Unidas (ONU) criaram a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1948, sob liderança dos Estados Unidos. A sede foi estabelecida em Santiago, no Chile, e foram capitaneados intelectuais das mais diversas formações, a fim de debater políticas de “combate à desigualdade e à pobreza” entre outras políticas.
Figuraram na Cepal desde o neoliberal Fernando Henrique Cardoso, passando pelo nacionalista Celso Furtado até chegar em personagens como Aníbal Quijano, um dos papas da “decolonidade”, que atuou junto à instituição de caráter imperialista entre 1966 e 1971, como pesquisador do Programa de Investigações sobre Urbanização e Marginalidade, na Divisão de Assuntos Sociais.
Quijano, em uma de seus textos mais difundidos, intitulado “Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina”, indexado atualmente na biblioteca do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), o autor afirma:
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo que começou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da população mundial de acordo com a idéia de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, origem e caráter colonial, mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo em cuja matriz foi estabelecido. Implica, conseqüentemente, num elemento de colonialidade no padrão de poder hoje hegemônico. No texto abaixo, o propósito principal é o de colocar algumas das questões teoricamente necessárias sobre as implicações dessa colonialidade do poder com relação à história da América Latina (QUIJANO, 2005).
Notem que ao invés de estabelecer uma análise do papel do imperialismo na organização da vida social na América Latina, o autor centra na problemática exclusiva do problema racial que estaria sendo aprofundado num período que ele chama de “globalização”, sugerindo que a luta “anticolonial” seja feita pela substituição inclusive de movimentos anticapitalistas (ou mesmo insurgentes e anti-imperialistas) realizadas na própria Europa, como se o problema fosse apenas a estrutura discursiva o padrão de poder. Esse pensamento deriva de autores frankfurtianos como Habermas, que centra o problema da sociedade na base técnica e sua “racionalidade”.
Ao atacar marxistas, pós-estruturalistas se alinham à adaptação ao interesses capitalistas, a partir das formas escorregadias de lidar com “lutas e pautas essencialmente por visibilidade”. Assim, como Quijano, a esquerda pequeno-burguesa decolonial compreende a “raça, uma categoria mental da modernidade” (QUIJANO, 2005). Nesse sentido, para superar o racismo, precisa superar um “período”, através da forja de outro período, que seria algo como a “pós-modernidade”. Quijano entende que a colonização da América produziu “novas identidades, uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas”. O equívoco do autor é não associar que o imperialismo sempre incorporou, por intermédio da ideologia e força, formas de cooptação e colaboração de classes a partir de novos modelos explicativos para dissimular suas formas de atuação.
Até o cínico economista liberal John Kenneth Galbraith afirmou:
“Globalização não é um conceito sério. Nós, americanos, o inventamos para dissimular nossa política de penetração econômica nos outros países” (Entrevista à Folha de São Paulo, 02.11.97).