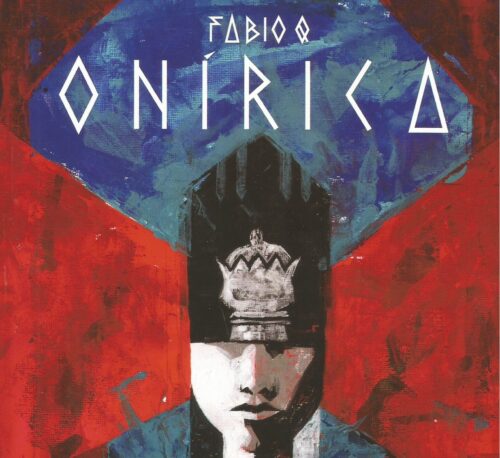Está complicado saber o que é crime no Brasil e, principalmente, entender a gravidade de cada delito. Um policial em dia de folga assassina um homem inocente com um tiro na cabeça e a delegacia registra o caso como “homicídio culposo”, ou seja, sem intenção de matar. Após pagar uma fiança, o assassino é liberado para responder ao processo em liberdade, afastado temporariamente das ruas, mas exercendo funções administrativas na corporação. Se condenado, a pena máxima seria de três anos, menos da metade dos oito anos de condenação do humorista politicamente incorreto, um quarto da pena da moça que rabiscou com batom um “Perdeu, Mané” na estátua da Justiça e um quinto da pena que pode receber um pastor que ousou dizer que a deputada Érika Hilton não é uma mulher porque não nasceu mulher.
A imprensa identificou o rapaz morto pelo policial por meio de sua profissão, marceneiro, deixando longe dos títulos de notícias o fato de ele ser um homem negro. Como ofensas de cunho racista nas mais corriqueiras situações costumam ganhar as letras garrafais das manchetes de jornal, causou estranheza esse “esquecimento”. Caso o marceneiro tivesse sido xingado de “negro safado” ou de “macaco” numa briga de bar, seu agressor poderia ser condenado a sete anos de prisão ou mais, e a imprensa, em sua costumeira hipocrisia, daria toda a atenção ao caso. Assassinatos cometidos por policiais, no entanto, podem macular a imagem do “presidenciável” da burguesia, o distinto governador Tarcísio de Freitas. E não é nada bom jogar os identitários contra o seu candidato. Identitarismo só quando interessa.
É fato que o tal Tarcísio está passando por um inferno astral, embolado na história do apoio ao tarifaço de Donald Trump e em outro assassinato perpetrado por policiais, desta vez durante ação, com câmera corporal ligada. A gravação, chocante, mostra o policial perguntar a um rapaz agachado atrás de uma cama se ele tinha passagem pelo sistema penitenciário e, diante da resposta negativa, pedir que se levantasse para, ato contínuo, atirar à queima-roupa. O rapaz se levanta de braços erguidos sob a voz de comando do policial para ser executado – no mesmo instante, outro policial atira na mesma vítima com uma espingarda calibre 12.
O assassinato do “marceneiro”, a pedido do Ministério Público, foi reclassificado como “homicídio doloso” (com intenção de matar), porque a história é muito escandalosa. Em que vai dar, porém, não sabemos, pois a imprensa vai ocultar e logo a população se esquece do fato. Quem não pode esquecer, no entanto, são as vítimas diárias da Polícia Militar, em geral moradores de periferias e de favelas, aonde o policial chega atirando. Segundo a Folha de S. Paulo, os policiais “se esqueceram” de que as câmeras corporais estavam ligadas. Que distração! O fato apenas ilustra o modus operandi da polícia, a rotina dos agentes da lei.
A imprensa, no entanto, está sendo gentil com a Polícia Militar. No caso do “marceneiro”, praticamente todos os jornais disseram que o policial matou o rapaz “por engano”, como se o único equívoco fosse ter executado o homem errado. A imprensa não se deu ao trabalho de lembrar que policiais não são autorizados a julgar ninguém, muito menos a condenar uma pessoa à morte, mesmo que ela lhes tenha roubado uma motocicleta.
Na prática, policiais em dias de folga são gente “autorizada” a matar por qualquer bagatela, como temos visto. No ano passado, um rapaz foi morto por furtar um frasco de detergente num mercadinho de bairro porque um “policial de folga” passou fogo no pobre-coitado. Nem precisamos lembrar a imagem, que correu a internet, do policial que jogou um rapaz de uma ponte. A propósito, passado o escândalo, a Rede Globo informou, no Jornal Nacional, que o rapaz não tinha morrido e estava bem. Na verdade, ele caiu num córrego fétido, mas foi ajudado por pessoas que estavam por ali. É claro que a intenção da imprensa era minimizar a cena horrível.
Não existe política identitária que resolva esse tipo de situação. As leis moralistas dos identitários, que geram altas punições, passam ao largo da barbárie perpetrada nas periferias pela polícia. São leis para uma classe média suscetível, preocupada em garantir que uma advogada negra não seja confundida com uma empregada doméstica por causa da cor de sua pele. Tudo bem, mas a empregada doméstica negra não ganha nada com isso. Seu filho é que pode ser assassinado pela polícia, ainda que “por engano”.
Enquanto isso, manifestantes que invadiram a sede do banco Itaú para fazer protesto pela taxação dos super-ricos estão sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo, sob alegação de crime de invasão de estabelecimento comercial. Pouco adiantou Guilherme Boulos ter dito que o pessoal foi bem-comportado e não quebrou nada, pois o Itaú já os comparou à turma do 8 de janeiro e quer saber “quem financiou a operação”. Afinal, invadir a sede do Itaú na Faria Lima deve ser tão (ou mais grave) que defecar na cadeira do ministro do STF…
Na Câmara, o deputado Janones foi suspenso por 90 dias por ter, veja só, chamado o coleguinha Nikolas Ferreira de “Nikole”. Homofobia. O relator do processo interno, Fausto Santos Jr. (União-AM), afirmou que Janones quebrou o decoro: “O emprego dessas palavras como forma de xingamento reforça estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população no espaço público e institucional”. Quem diria que o deputado Nikolas Ferreira se beneficiaria da lei dos identitários? Pois é. É exatamente para isso que servem as leis que criminalizam palavras. Nunca se sabe quem vai ser punido, como, quando e exatamente por quê.