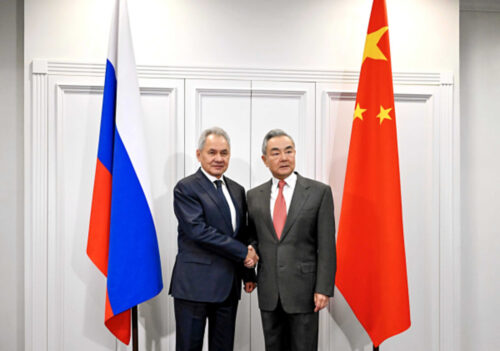Nossa companheira Natália Pimenta partiu cedo demais. Com todas as suas forças e com a altivez serena que a caracterizava, enfrentou uma difícil luta contra o câncer. No decorrer de um tratamento agressivo, surgiu um quadro específico de leucemia. Após testes genéticos, os médicos identificaram o rearranjo de um determinado gene e deram esperanças a ela e à família, pois existe no mercado um medicamento desenvolvido para interromper a proliferação das células malignas desse tipo raro e severo de leucemia. O que parecia uma solução, no entanto, tornou-se uma batalha paralela – primeiro no Judiciário e, depois, na burocracia estatal. Enquanto o câncer avançava minuto a minuto, o Estado brasileiro procrastinava. O triste desfecho se tinge com as cores da indignação.
Os debates em torno da saúde veiculados pela imprensa da burguesia são sempre camuflados de boas intenções. Vemos médicos frequentemente fotografados pela imprensa reunidos com empresários e juízes, todos se dizendo muito preocupados com os destinos da coletividade quando o assunto é a aquisição de um medicamento de alto custo para um paciente, como o que foi negado à companheira Natália.
Segundo o atual entendimento do STF, o juiz que concede um medicamento de alto custo para um paciente prejudica a “coletividade”. O ex-ministro Luís Roberto Barroso, quando era presidente da mais alta corte, recomendou aos magistrados que não julgassem com o “coração” os pedidos de tratamentos de saúde, mas, sim, com a “razão”, ou seja, levando em conta a “sustentabilidade do sistema”.
A ideia, embalada na retórica típica do Judiciário brasileiro, faz parecer que o ministro está preocupado com o povo, mas, na verdade, ele está precificando a vida das pessoas. Aqueles que tiverem a sorte de contrair uma enfermidade de tratamento barato serão atendidos, enquanto os que tiverem o azar de enfrentar uma doença grave, que requeira um medicamento de ponta, deverão abrir mão da própria vida em nome da “sustentabilidade”. O Judiciário transformou a saúde numa roleta-russa.
A médica Ludhmila Hajjar, em recente artigo no jornal O Globo, relata ter sido convidada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, a participar de uma audiência pública cujo objetivo era discutir “a precificação e o acesso a medicamentos no Brasil”. Segundo ela, “falar de preço de remédio é, na verdade, falar de justiça social, de sustentabilidade e de vida”. Adiantando a leitura do artigo, vamos entender melhor o conceito de “justiça social” que está sendo defendido: “a expansão tecnológica e o surgimento de terapias de alto custo colocaram o país diante de um dilema: como garantir acesso equitativo sem comprometer a sustentabilidade do sistema público e privado?”. E continua ela: “Como dizer sim à inovação e, ao mesmo tempo, não ao desperdício e à distorção de preços?”.
“Justiça social”, “coletividade”, “acesso equitativo”, o vocabulário serve para camuflar as reais intenções dessas pessoas. A preocupação, de fato, é a tal sustentabilidade, ou seja, dinheiro, preço, desperdício. Ela dirá em seguida: “Um país que gasta mal deixa de financiar o que realmente salva vidas. A incorporação precoce de terapias sem benefício comprovado ou de custo desproporcional retira recursos de vacinas, de UTIs, de equipes de atenção primária”. Estamos começando a entender que remédios de “custo desproporcional”, isto é, “caros”, não são o que salva vidas. O que salva vidas são vacinas e atenção primária. É preciso dizer o óbvio: o que pode salvar uma vida é aquilo de que o paciente concretamente precisa. Nem tudo se resolve com vacina e atenção primária. Essas coisas, logicamente importantes, não deveriam excluir as outras.
O problema, como se vê, é o preço do medicamento. De fato, o fármaco de que necessitava Natália era um desses remédios caros, vendido a R$ 3 milhões pelo laboratório norte-americano que o desenvolveu. A indústria justifica o valor por ser o medicamento muito específico, destinado a pouquíssimos pacientes (é o que chamam de medicamento órfão). Digamos que é a lei da oferta e da procura em ação. A indústria, que no sistema capitalista é privada, define o preço, que a doutora Ludhmila considera “desproporcional”. Sim, tudo indica que o seja, mas qual é a solução mágica para esse problema, já que ninguém parece disposto a questionar o próprio sistema capitalista? Não comprar o medicamento e deixar o paciente morrer? É exatamente isso o que está sendo sugerido em nome de proteger a “coletividade”, que precisa de vacinas e atenção primária. Parece exagero?
Se não, vejamos. Ela diz: “O direito à saúde não é o direito ao remédio mais caro, e sim ao tratamento mais eficaz, seguro e sustentável”. E se o mais eficaz e seguro for o mais caro? Quem garante que “eficaz, seguro e ‘sustentável’” sejam características simultâneas? A cereja do bolo vem na frase de impacto: “Só com transparência, integração e responsabilidade poderemos garantir que o preço da inovação não ultrapasse o valor da vida”. Qual seria exatamente o “valor da vida” na moeda de troca dessas pessoas? Segundo a médica, o valor da vida dos membros da “coletividade” estaria abaixo do preço dos medicamentos. Em outras palavras, ela está dizendo que, por esse preço, é melhor deixar o paciente morrer. Essa é a barganha que ela propõe para enfrentar a indústria farmacêutica, como se dissesse: “Aqui, no Brasil, a gente deixa o paciente morrer caso vocês não baixem o preço”. O paciente morre, e o preço continua alto para quem quiser pagar.
Temos dificuldade em acreditar que ela sustentasse esse raciocínio se tivesse um familiar cuja vida dependesse de um medicamento caro, mas isso nem vem ao caso. O que importa é que o Estado não pode usar esse pseudoargumento. Todas as vidas valem igualmente, senão a quem caberia dizer qual é o valor de cada vida? O problema é que o povo está apartado dessa discussão, da qual só toma conhecimento quando se vê diante de uma emergência, no meio da luta pela própria vida ou pela vida de uma pessoa querida, quando se vê ainda mais vulnerável.
O Judiciário criou uma vara eletrônica para julgar recursos da área da saúde, sob alegação de ser preciso implantar a racionalidade no sistema. Os algoritmos, aparentemente programados para negar pedidos de acordo com o custo, são a última panaceia do sistema – e prometem reduzir a “judicialização da saúde”. É muito simples: em vez de melhorar o atendimento para diminuir a demanda judicial, inserem-se robôs treinados para dizer “não” sem dor no (inexistente) coração.
Perdemos a companheira Natália Pimenta, que se foi aos 40 anos de idade. Depois de um vaivém judicial, a família conseguiu o direito à compra do remédio, mas o pedido, já autorizado, entalou na burocracia do Ministério da Saúde, talvez à espera de que o câncer vencesse a luta e o Estado economizasse uns tostões para não deixar faltar o “lucro nosso de cada dia” no bolso dos banqueiros, a quem, afinal, beneficia a política de “racionalidade” contra o povo.
Não é a “coletividade” quem ganha com a recusa de um remédio a um membro dessa mesma coletividade: são os de sempre, os que estão contra a população, os que matam o povo das mais diferentes formas todos os dias.