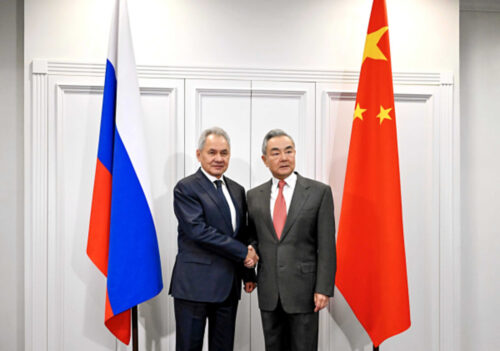Certa feita, uma conhecida, que leciona em uma universidade privada de São Paulo, relatava as providências tomadas pela reitoria para lidar com um suposto episódio de ofensa racial. Inadvertidamente, perguntei o que tinha ocorrido, ou seja, quem fez ou disse o quê. Para minha surpresa, ela me interrompeu bruscamente dizendo que não importava saber isso, pois era suficiente que alguém dissesse se sentir ofendido. Tentei insistir na pergunta, mas ela se irritou, enfatizando que não, não importa o que houve, mas apenas e tão somente o fato de alguém ter-se sentido ofendido. Compreendi que ninguém, além do ofendido, poderia julgar o ocorrido, pois, afinal, ninguém seria capaz de sentir o que a pessoa sentiu. O caso é interessante pelo que tem a nos ensinar sobre o “Direito Identitário” e suas consequências.
No caso da ofensa racial, o pressuposto é que uma queixa deve necessariamente levar a uma condenação pelo crime de injúria racial, uma vez que, sendo o racismo “estrutural”, não é preciso apresentar provas nem realizar processo – até porque juízes e advogados só poderiam olhar os fatos “de fora”, jamais adentrar os sentimentos da vítima. O problema é que o Direito, pelo menos por enquanto, não pode deliberadamente abrir mão do “devido processo legal”. É preciso que, formalmente, os trâmites sejam seguidos, ainda que se saiba de antemão o resultado do “julgamento”. Ato contínuo, o juiz vai condenar aquele que tiver sido acusado de ter feito uma ofensa e nem vai ouvir as suas alegações.
No caso da ofensa racial, de boa-fé, os membros da sociedade parecem ter aceitado esse “pseudotrâmite”, pelo menos até que a coisa chegue a sua casa. Veja-se o caso das adolescentes de 14 anos do colégio Vera Cruz, em São Paulo, que escreveram uma “ofensa racista” (a expressão “cu preto”) no caderno de uma menina negra que é filha de uma atriz da Rede Globo. A escola, é bom lembrar, é frequentada por uma abonada faixa da pequena burguesia paulistana.
Uma das meninas “agressoras” foi retirada da escola, seguiu-se um processo e o juiz teria sugerido a justiça restaurativa, “formato que foca na reparação do dano e na reconstrução dos laços sociais, em vez de simplesmente punir o infrator, uma jovem menor”, nas palavras do pai dela em carta divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo. Ele continua: “Mas a proposta foi rejeitada pela família da vítima. Ao final, a Justiça entendeu o caso de forma diferente da nossa família e indicou medida socioeducativa, já cumprida integralmente por nossa filha”. Fica claro que esse pai achou exagerada a punição, embora deva ser simpatizante da “esquerda identitária”, como se depreende do teor da carta. Um juiz tentou amenizar o caso, ocorrido entre adolescentes da mesma classe social, mas o encaminhamento do outro foi fazer o que a “família da vítima” quis, ou seja, dar uma punição mais severa à menina. “A proposta foi rejeitada pela família” é uma frase interessante.
Essas histórias vão criando a velha e boa jurisprudência. Chegamos ao ponto em que qualquer pessoa que se diga ofendida por qualquer coisa pode levar um desafeto às barras da Justiça e, a depender da opinião do juiz, arrancar-lhe dinheiro. Já não precisa ser caso de “racismo estrutural”. A lógica da coisa é que todo o mundo se ofende com alguma coisa, não só os negros (e também os transexuais, que pegaram carona na lei da injúria racial). Aliás, essa carona no barco identitário foi o que abriu as portas para essa bagunça que ocorre hoje em dia. A lei racial agora vale para qualquer coisa.
Chamar ministro de “gordola” rendeu processo ao youtuber Monark. Segundo reportagem da CNN Brasil, além do termo “gordofóbico”, teria havido outros xingamentos: “perverso”, “malicioso”, “maldito”, “tirânico”, “sem escrúpulo”, “é uma fraude”. Aliás, na decisão, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, disse que não caberia substituir a detenção por uma pena alternativa, diante da “elevada culpabilidade” e da “conduta social desabonadora” do influenciador. Não demora, a Justiça brasileira vai condenar os dicionaristas e, com o apoio dos magistrados do “Direito Identitário”, vai mandar apagar os adjetivos “ofensivos”.
O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, foi condenado a indenizar o excelentíssimo deputado Kim Kataguiri por se referir a ele com adjetivos “inadequados”, sendo um deles o termo “palhaço”. O outro, “nazistinha”, foi dito como conclusão de um raciocínio. Veja o leitor que outro qualificativo poderia atribuir ao deputado depois de saber que ele usou o parlamento para propor um veto à ajuda humanitária do Brasil à população de Gaza. Por muito menos, já se disse muito mais do tal do Bolsonaro, xingado a torto e a direito de tudo quanto é nome. Esse, porém, se abrisse processo por injúria, provavelmente ficasse a ver navios.
O “Direito Identitário” abriu as portas para a arbitrariedade. Hoje, quem se aproveita disso é gente do quilate de Kim Kataguiri, que, a propósito, quando esteve no fatídico programa do Monark, em que este indagou por que não pode haver um partido nazista, respondeu de pronto que achava que, sim, deveria existir partido nazista, por que não? Quem discordou foi a coleguinha Tabata Amaral, que estava no mesmo bate-papo. O resto é o que se sabe: Monark ficou com a pecha de “nazista” por ter feito uma pergunta (e foi cancelado, processado, perdeu o canal de internet etc.), Tabata ficou horrorizada e Kataguiri saiu de fininho. A filósofa identitária Marcia Tiburi, na época, não quis deixar passar e chamou o deputado de “nazista” – perdeu R$ 5 mil na Justiça.
Estamos num momento em que somente alguns podem dizer o que querem. Os que dizem o que incomoda são acusados de “extrapolar os limites da liberdade de expressão” e são condenados a indenizar gente de moral pra lá de duvidosa. Essa história não pode acabar bem.