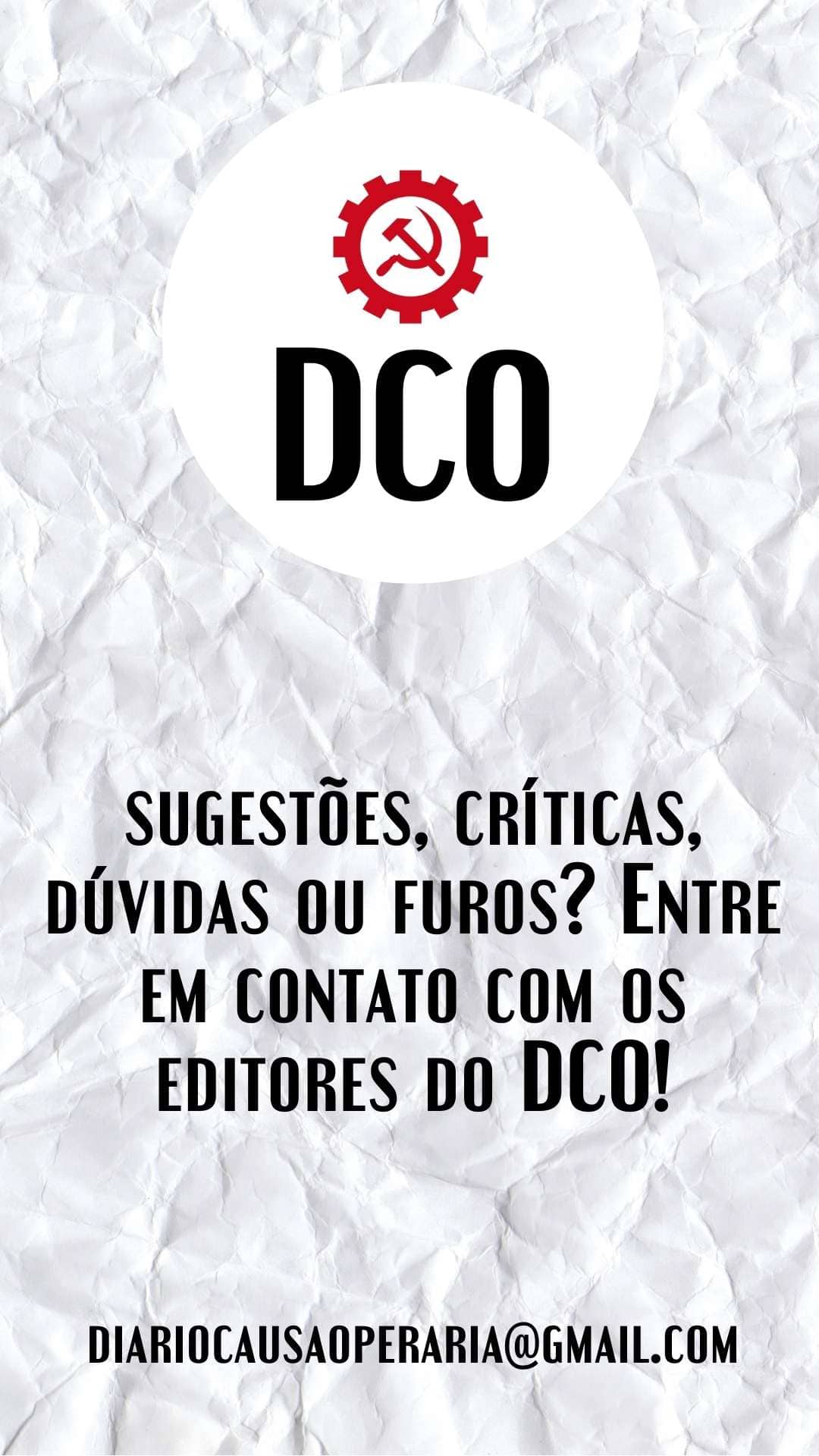A segunda aula da nova etapa do curso História do Brasil, ministrado por Rui Costa Pimenta no Centro Cultural Benjamin Péret (CCBP) e transmitido pela Universidade Marxista, foi dedicada à análise do período regencial (1831-1840), um dos momentos mais críticos da história nacional. Segundo Pimenta, esses nove anos colocaram em jogo a própria existência do Estado brasileiro enquanto unidade nacional.
“Se o Brasil tivesse se dividido naquela época, hoje o mapa da América do Sul seria como o da América Central, com dezenas de países. Seria pior que a África do ponto de vista geopolítico”, afirmou.
O período regencial começa com a renúncia de Dom Pedro I em 1831, em meio a uma agitação social crescente, dificuldades econômicas e instabilidade política. Com a saída do imperador, forma-se uma Regência Trina provisória e, posteriormente, permanente, composta por figuras ligadas ao antigo regime, como Francisco de Lima e Silva, integrante da poderosa família do futuro Duque de Caxias. Esse governo de transição tentou manter a ordem enquanto Dom Pedro II não atingia a idade legal para assumir o trono.
Em 1835, é eleito o regente único Padre Antônio Feijó, representante da ala liberal moderada, e em 1837, Araújo Lima assume o posto. A regência termina em 1840, com o chamado golpe da maioridade, quando, com apoio da ala liberal, o jovem imperador de apenas 14 anos é declarado apto a governar.
Durante esses nove anos, o país mergulha em uma das maiores crises da sua história. O presidente do PCO chama atenção para um aspecto fundamental: “todas as crises revolucionárias profundas são longas. A crise da ditadura, por exemplo, começou em 1974 e só se encerrou, institucionalmente, em 1988. Isso revela a complexidade de um país como o Brasil”.
O caráter prolongado da crise se explica, segundo Pimenta, pela enorme diversidade econômica e social do território brasileiro, o que torna cada mudança de regime uma operação intricada. “Um país desse tamanho, com tantas particularidades regionais, não se transforma de maneira simples. A construção do Estado nacional é, nesse sentido, uma tarefa de grandes proporções”, disse.
Nesse período, os liberais ganham força política e, com apoio das oligarquias locais, impulsionam uma política de descentralização do poder. Isso leva a uma série de reformas que concedem maior autonomia às províncias. Rui Costa Pimenta explica que essas reformas não foram pensadas para desmembrar o País, mas acabaram incentivando movimentos separatistas. “Os liberais não queriam dividir o país. Mas as forças que operam na história não dependem da intenção subjetiva dos seus agentes. Elas se impõem como leis objetivas. As forças centrífugas atuam independentemente da vontade das pessoas”, explicou.
O resultado desse processo é o surgimento de diversas rebeliões com viés separatista: Cabanada, Sabinada, Balaiada, Guerra dos Farrapos, entre outras. “Todas essas revoltas têm em comum a tentativa de separação regional. Algumas com maior envolvimento popular, outras lideradas por setores liberais radicais, mas todas representavam o mesmo perigo: a desintegração da unidade nacional”, apontou Pimenta.
Essas revoltas devem ser compreendidas, segundo o dirigente trotskista, não como mera reação a medidas impopulares, mas como expressão de uma luta entre diferentes interesses de classe. De um lado, setores que viam no Estado centralizado um instrumento para garantir seus interesses. Do outro, segmentos da classe dominante regional, que viam na centralização uma ameaça a seus privilégios.
A figura de Dom Pedro I, mesmo com todas as suas contradições, foi um ponto de coesão nesse cenário. “Dom Pedro tinha uma autoridade muito grande. Na Bahia, por exemplo, um batalhão foi enviado com a designação de príncipe regente. A independência teve nele uma referência, o que estabilizava o processo de formação do Estado nacional”, disse.
Com sua abdicação, esse elemento de estabilidade desaparece. O País mergulha em uma disputa aberta sobre sua própria continuidade como unidade territorial. Rui Pimenta observou que se o processo tivesse resultado na fragmentação, a América do Sul oriental estaria hoje em situação ainda mais caótica do que a ocidental, dominada por dezenas de pequenos países frágeis e vulneráveis à dominação imperialista.
Um dos pontos centrais da aula foi a crítica direta à esquerda pequeno-burguesa de hoje que, segundo Pimenta, sequer entende a importância da unidade nacional: “não é que a esquerda não defenda a unidade do Brasil, é que ela nem reconhece que isso é um problema. Está fora do horizonte intelectual dela”. Ele citou uma polêmica com Valter Pomar, dirigente da Articulação de Esquerda no PT, sobre o papel dos bandeirantes na consolidação do território. “Pomar disse que os bandeirantes não tiveram papel importante. Isso mostra o quanto essa esquerda está alheia à realidade histórica”, afirmou.
Para Pimenta, a questão territorial está no cerne da construção do Estado nacional. “Os intelectuais mais importantes da América Latina reconhecem que o grande problema da América espanhola foi a balcanização. A fragmentação territorial levou à impotência política. O Brasil só resistiu graças à sua dimensão e à sua relativa coesão nacional”.
Com a consolidação do Segundo Império, essa tendência à fragmentação diminui. As forças centrífugas se enfraquecem, mas a desigualdade regional se aprofunda. “O problema deixa de ser o separatismo explícito e passa a ser a desigualdade no desenvolvimento econômico nas diferentes regiões. Enquanto o Brasil não tiver uma economia que abarque e domine todo o seu território, a unidade nacional será frágil”, explica Pimenta.
Ele comparou a situação com a dos Estados Unidos: “lá, a burguesia domina o território inteiro. Aqui, a burguesia brasileira nunca teve força para isso. Sempre teve que negociar com as oligarquias regionais”. Essa fraqueza da burguesia nacional é o que dá origem ao sistema político profundamente corrupto e reacionário da República Velha: coronelismo, voto de cabresto, controle local absoluto.
Esse sistema só seria desafiado de maneira efetiva pela Revolução de 1930, que marca o início da luta contra a descentralização extrema. Em 1937, Getúlio Vargas dá um passo decisivo ao instituir o Estado Novo, um regime ditatorial que acaba com o parlamento e formalmente com a autonomia dos estados. Pimenta relembrou o episódio simbólico em que Vargas manda queimar as bandeiras estaduais: “foi o gesto simbólico do fim da federação. Um marco do processo de centralização”.
Apesar do autoritarismo do regime, ele aponta que o Estado Novo representava os interesses da burguesia nacional, e não da oligarquia agrária. “A revolução de 30 encerra a supremacia das oligarquias. O Estado Novo é o ponto culminante desse processo. Depois disso, a descentralização retorna, mas já de forma mitigada”, explica.
A ditadura militar dos anos 60 impõe nova centralização política, mas os governadores permanecem como representantes diretos das oligarquias. O presidente do PCO analisa o processo de transição política e mostra como as disputas entre MDB e ARENA expressavam as divisões de classe: “o MDB era expressão da burguesia urbana e industrial. A ARENA representava os interesses da oligarquia rural. E até hoje, o país convive com essa isso”.
Finalizando a aula, Rui Costa Pimenta fez uma análise das ideologias que se opõem à construção de um Estado nacional forte: o feudalismo, resgatado por setores da oligarquia como justificativa ideológica de seus privilégios, e o anarquismo, que ele classifica como uma ideologia pequeno-burguesa, liberal em sua essência: “o anarquismo é uma ideologia contra o Estado, contra a organização. É o oposto da unidade nacional”.
Para Pimenta, a crise da Regência foi um momento decisivo. Apesar da instabilidade, foi ali que se consolidaram as bases do Estado nacional brasileiro. “Não foi uma consolidação completa, mas foi um marco importante. E a marca dessa consolidação foi o pacto entre o poder central e as oligarquias, um pacto que produziu um sistema deformado e atrasado”, disse.