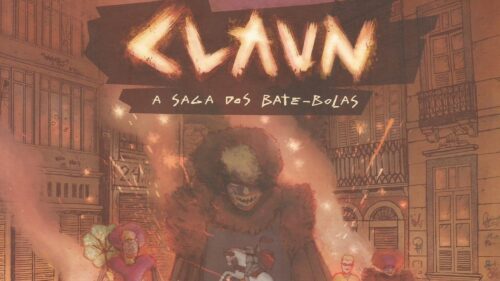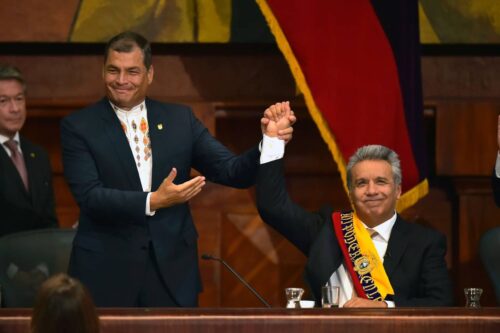A taxa de desemprego recentemente noticiada, um índice de 6,4% aferido no último trimestre de 2023, é uma das boas notícias do governo, bastante comemorada não só na esquerda como na imprensa burguesa. Sem querer ser estraga-prazeres, o fato é que, quando a burguesia comemora, a gente desconfia.
Não se trata de duvidar dos números do governo, mas, sim, de tentar entender o que significam no panorama de hoje. Em geral, quando as coisas melhoram para o trabalhador, a burguesia grita. Em 2015, no governo Dilma Rousseff, foi aprovada lei que obrigava a registrar a empregada doméstica. Quem não se lembra do escarcéu da burguesia e de parcela da classe média, tão acostumadas a tratar essa profissional como “membro da família”? Quem não se lembra da revolta contra os pobres viajando de avião? Mas isso é passado.
Houve golpe em 2016, houve governo Temer e “flexibilização” dos direitos trabalhistas, sob a cínica alegação de que, com menos encargos, haveria mais empregos. Houve mais exploração, menos controle, mais terceirização e a famosa “negociação” entre empregador e empregado, que afastaria o trabalhador, cada vez mais, dos sindicatos. Além do enxugamento dos direitos, a própria Justiça do Trabalho passou a cobrar do trabalhador as custas processuais em caso de indeferimento da reclamação.
Depois, houve a pandemia, que escancarou o retrocesso do trabalho no país. Muitos dos que tinham emprego formal sofreram corte de salário (autorizado pelo Bolsonaro) ou foram simplesmente demitidos. Empresários usaram a pandemia como pretexto para demitir mais pessoas, já que o economizado em folha de pagamento poderia ser investido no mercado financeiro.
Enquanto isso, a massa que vinha vivendo de bicos se viu sem absolutamente nada da noite para o dia, tendo de enfrentar, além do risco de contrair a Covid-19, a fome. As imagens de filas diante de caminhão de carcaças, lixo de açougue, não nos deixam esquecer a humilhação a que se submetiam as pessoas mais pobres.
No começo, os grandes empresários – os mesmos que demitiam seus empregados e aumentavam o trabalho dos remanescentes – faziam algumas doações de produtos aos mais necessitados e, ao término do dia, apareciam no Jornal Nacional, da Rede Globo, como benfeitores, enquanto negociavam com o governo o abatimento de impostos. No segundo ano da pandemia, a filantropia já tinha chegado ao limite – e Bolsonaro acabou aumentando o valor do Bolsa Família para R$ 600.
O “novo normal”, expressão difundida na época, continuou muito visível no mundo do trabalho. O hábito de comprar pela internet aumentou a demanda de entregadores de aplicativo, “categoria” que não tem patrões formais. São trabalhadores que usam a própria motocicleta, ou bicicleta, ou patinete, quando não o seu par de pernas, para entregar comida ou outros produtos em domicílio. O novo trabalho é “irmão” do táxi de aplicativo – Uber e similares –, que inaugurou o revolucionário sistema de extrair mais-valia sem ser patrão.
De resto, o trabalho remoto ganhou destaque depois que os empresários fizeram os cálculos. O trabalhador usa a própria casa e os próprios recursos para trabalhar – como os entregadores – e é obrigado a se transformar em pessoa jurídica (PJ) para que não tenha nenhuma possibilidade de reclamar algum direito futuramente. Além disso, trabalho remoto não tem horário. Basta montar o grupo de WhatsApp da empresa e o trabalhador tem seu tempo inteiramente controlado. E mais: para os que recebem até R$ 6 mil, é possível, quando a empresa aceita, fazer um registro de MEI (microempreendedor individual); se o sujeito conseguir ganhar R$ 7 mil, já não pode ser MEI, restando-lhe virar empresa individual e pagar impostos de empresa de verdade.
Ao mesmo tempo, um dia sim, o outro também, somos bombardeados com a propaganda do empreendedorismo, que cria uma grande confusão na cabeça das pessoas. O cara entrega pizza de bicicleta e se sente um “empresário” porque não tem patrão e seus horários são “flexíveis”. Horário flexível, na prática, significa perder o fim de semana, uma das primeiras conquistas dos trabalhadores, que, no início do século XX, enfrentavam uma jornada de 16 horas por dia sem folga.
Dito isso, voltemos à menor taxa de desemprego dos últimos tempos. É preciso considerar alguns outros números. O IBGE considera que a força de trabalho no país é composta das pessoas empregadas e daquelas que estão procurando emprego. Somados, os grupos totalizam 110 milhões de pessoas. Fora desse contingente, há 66,4 milhões de pessoas de 14 anos ou mais que, mesmo desempregadas, não estão buscando um emprego. O índice mostra que, dos 110 milhões, apenas 7 milhões estão sem emprego, o mais baixo índice etc. e tal. Aqueles 66,4 milhões não entram nos cálculos. Muita gente está fora da “força de trabalho” do IBGE, ou seja, não aparece no índice, porque não está procurando emprego, o que pode ser explicado de várias formas, inclusive por desalento, que é desistência diante da dificuldade de encontrar uma vaga.
A burguesia comemora os índices porque eles passam a impressão de que está tudo bem, mesmo que a conta do supermercado ou da energia elétrica continue pesando no bolso. Os salários estão baixos, os direitos estão estrangulados, a precarização disfarçada de empreendedorismo ou de “pejotização” é evidente. No entanto, essa aparência de que o mundo do trabalho vai muito bem nas condições existentes, quando a exploração é muito maior, favorece a desmobilização dos trabalhadores.
Recentemente, o Jornal Nacional divulgava com entusiasmo a criação de empregos na construção civil. Um entrevistado, desses muito bem escolhidos para ilustrar a reportagem, contava ter trabalhado, juntado dinheiro e voltado para a Bahia para fazer outras coisas, mas, a pedido do empregador, que lhe telefonara oferecendo emprego em nova obra, ele estava de volta. A reportagem conclui: “Para trabalhador bom, não falta emprego”. Então, tá bom.