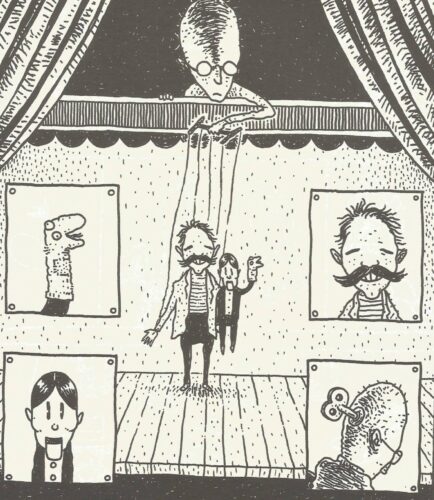De uns tempos para cá, tenho assistido a alguns filmes no YouTube. São produções americanas dos anos 1940 e 1950, escondidas na plataforma. Um desses achados foi uma adaptação de Jane Eyre, o famoso romance de uma das irmãs Brontë, a Charlotte, com um elenco liderado por Orson Welles e Jean Fontaine.
O melodrama e a ambientação gótica são as marcas do filme preto e branco, lançado em 1944. Há uma certa crítica à futilidade e à crueldade dos ricos, ao estilo de Charles Dickens. No início vemos Jane ainda menina e descobrimos que é uma órfã que vive de favor na casa da tia, rica e megera, interpretada pela ótima Agnes Moorehead que, apenas dois anos antes, havia feito Cidadão Kane, dirigido por Welles e considerado uma obra-prima do cinema.
Em um documentário que assisti sobre a vida do diretor há alguns anos, ficou claro que Cidadão Kane foi o filme que ele conseguiu ter a liberdade de fazer. Depois, os estúdios foram implacáveis com seus roteiros, por causa da forma épica e temas de esquerda.
Mas, por que começo com Welles se o tema desse texto é Megalópolis, de Francis Ford Coppola, lançado nos cinemas este mês? Porque, se Welles representou uma grande promessa na década de 1940, Megalópolis representa o fim da jornada do cinema americano, como se fosse sua pá de cal. Por sua grandiosidade e importância, ele funciona como uma espécie de epílogo desta cinematografia tão imensa, singular e contraditória.
No nosso momento histórico, ele sintetiza a cultura que só pode se manifestar em um império em decadência. É como um sintoma dessa derrocada e, por isso mesmo, merece nossa atenção. Em outras palavras, assistir a Megalópolis não é buscar isolá-lo para simplesmente responder se é ou não um bom filme. Ao contrário, ele pode ser visto como uma obra que materializa, com suas imagens, a imaginação e a subjetividade da classe dominante dos Estados Unidos e sua incapacidade de fazer uma análise concreta da atual conjuntura histórica.
Por esse mesmo motivo, o filme representa também o fim da carreira de Francis Ford Coppola, que nos presenteou com Apocalypse Now (1979), seu maior legado. Uma adaptação feroz de O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, ambientada na Guerra do Vietnã. Não sobrou nada desse olhar crítico. Lembram do coronel americano fascista, interpretado por Robert Duvall, que dizia “adoro o cheiro de napalm pela manhã”? Ou a frase final do enlouquecido coronel Kurtz (Marlon Brando): “o horror, o horror”.
Megalópolis, ao contrário, quer nos fazer crer que uma utopia é possível na figura de seu herói, o cientista nerd e arrogante César Catilina (Adam Driver), (mais parecido com um personagem de sitcom), que destrói as casas das pessoas comuns para construir uma nova civilização que, em sua imaginação, é perfeita. O cenário é Nova York, que é chamada de Nova Roma, uma óbvia alegoria entre os Estados Unidos e o Império Romano em seus momentos finais. A solução está na genialidade do brilhante cientista, criador da substância abstrata megalon, uma descoberta do tipo panaceia ou cura para todos os males.
O enredo se desenrola como uma salada de referências infinitas, sem qualquer profundidade. No entanto, a história é quase um clichê: César é primo dos netos do homem mais rico da cidade, o banqueiro Hamilton Crassus III (Jon Voight). Um deles, Clódio (Shia LaBeouf) tem inveja de suas conquistas e tenta acabar com sua reputação e com o sonho de criar Megalópolis. Ao mesmo tempo, também planeja dar um golpe em seu avô.
Como em uma novela da TV Globo, tudo gira em torno do melodrama da família dos ricos e poderosos, vilões ou mocinhos. No final, César acaba se apaixonando e chegando à conclusão que só o amor pode vencer o ódio. Os maus, Clódio e a infiel esposa de Crassus, são devidamente punidos, e tudo se resolve na conciliação entre ricos e pobres em perfeita harmonia e felicidade. Obviamente, Coppola não inclui qualquer indício de luta de classes ou de superação do capitalismo em sua visão de futuro.
Em suma, o enredo é reacionário. Tudo é amarrado por uma cinematografia espetacular, cheia de efeitos especiais, cenários e figurinos deslumbrantes. O diretor faz inúmeras citações cinematográficas, como também literárias. De Shakespeare a F. Scott Fitzgerald de O Grande Gatsby e, principalmente, ao cinema americano, cujas citações estão em cada cena.
No final, essa maionese enciclopédica é somente uma forma vazia de realização artística, mais uma panaceia pseudo-intelectual desprovida de contato com a materialidade histórica e com a contradição. É mais do mesmo da cultura pós-moderna, tradução do neoliberalismo. Interessante notar que o personagem de César é um arquiteto. Em seus textos sobre a pós-modernidade, o teórico Fredric Jameson cita muito a arquitetura atual como um dos exemplos mais representativos da pós-modernidade. Este é o César no filme de Coppola, que o cineasta idealiza como uma figura messiânica, que vive no alto dos edifícios, jamais em terra firme, e é capaz de parar o tempo.
Talvez tudo poderia ser visto de uma forma crítica se houvesse alguma ironia ou se o ponto de vista do filme não estivesse tão ligado ao ponto de vista de seus personagens. No entanto, o filme parece levar seus temas muito a sério, com exceção do final, que lembra uma comédia de costumes.
Nos últimos anos, tenho escrito sobre alguns filmes americanos contemporâneos aqui nesta coluna como Não olhe para cima (2021) Tudo em todo lugar ao mesmo tempo (2022) e Babilônia (2023). Todos seguem mais ou menos a mesma receita pós-moderna e apocalíptica, no qual Megalópolis é talvez o ápice e um ponto de não retorno. Babilônia, ao menos, é o mais honesto de todos: ele fala do fim do cinema como conhecemos com uma melancolia sincera.
Talvez, seja um pouco exagerado da minha parte dizer que o fim do cinema americano chegou. Claro que Hollywood continuará a existir, a produzir filmes e a premiá-los com o Oscar. Mas, neste momento da História, Hollywood não têm nada a dizer, a não ser refletir de maneira equivocada, alienada e vazia sobre a sua própria sensação de derrota, de que a História a está atropelando, sem entender porque isso está acontecendo, e que está, como o império que a sustenta, irremediavelmente ficando para trás.
*Publicado originalmente em 15 de novembro de 2024