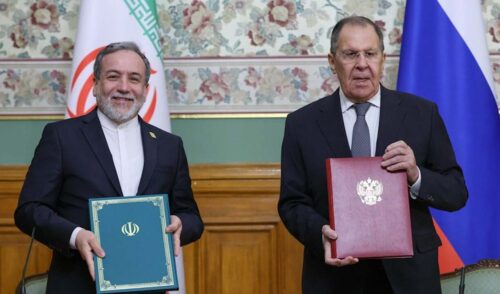Documentos secretos do governo dos Estados Unidos tornados públicos recentemente revelam que, desde os anos 1960, a Casa Branca (sede do governo norte-americano) tinha conhecimento sobre a capacidade de “Israel” de produzir plutônio para armas nucleares no complexo nuclear de Dimona, localizado no deserto de al-Naqab. Esses registros dão razão à preocupação de longa data dos povos árabes e governos nacionalistas da região em relação à capacidade de ataques nucleares por parte da ditadura sionista.
Segundo o Arquivo de Segurança Nacional, uma organização criada em 1985 por jornalistas e acadêmicos, um relatório da Comissão de Energia Atômica dos EUA (AEC) de dezembro de 1960 foi o primeiro documento conhecido a declarar, claramente, que o projeto Dimona incluía uma usina de reprocessamento de plutônio destinada à produção de armas nucleares.
Apesar do impacto desse relatório inicial, a inteligência norte-americana continuou a expressar incertezas sobre as atividades de reprocessamento em Dimona até o final da década de 1960. Nessa época, “Israel” já havia alcançado a capacidade nuclear, segundo os documentos. Em 1967, foi constatado que a usina de reprocessamento estava em pleno funcionamento e que “Israel” poderia produzir uma arma nuclear em um prazo de seis a oito semanas.
Os registros também indicam que, durante a década de 1970, os Estados Unidos passaram a oficialmente aceitar a realidade da capacidade nuclear israelense, endossando o plano do sionismo de se armar contra os povos árabes. Isso foi acompanhado por um entendimento secreto entre os dois países, que reconhecia “Israel” como uma potência nuclear não declarada. Essa relação moldou a política externa dos EUA, que buscava equilibrar de forma canalha metas falsas de não-proliferação de armas nucleares, com proliferação em massa das mesmas no enclave imperialista.
Entre 1965 e 1967, documentos detalham inspeções realizadas pelos EUA em Dimona. Apesar das afirmações israelenses de que o uso nuclear seria pacífico, os próprios inspetores norte-americanos relataram inconsistências entre as informações fornecidas por “Israel” e o que foi observado no local. Um ponto crucial surge em um relatório de inteligência de 1967, confirmando que a ocupação estava a semanas de produzir sua primeira arma nuclear.
Os documentos destacam a política de “amimut”, ou ambiguidade nuclear, adotada por “Israel”. Essa abordagem permite que o país mantenha um poder de dissuasão nuclear sem reconhecê-lo oficialmente, o que dificulta os esforços globais de não proliferação e protege a ocupação sionista de sanções internacionais.
Um dos registros mais explosivos é uma resposta do genocida David Ben-Gurion, então primeiro-ministro israelense, a questionamentos dos EUA sobre Dimona. Ben-Gurion declarou que “Israel” não era “um satélite da América”, apesar de, literalmente, o ser, e rejeitou inspeções internacionais. Esse posicionamento demonstrava a estratégia deliberada de “Israel” em manter sigilo sobre seu programa nuclear.
Os 20 documentos tornados públicos, encontram-se relatórios de inteligência e trocas diplomáticas que permitem traçar um retrato preciso, sobre como o imperialismo monitorou o programa nuclear israelense desde o final dos anos 1950 e, à medida que foi avançando, foram reforçando seu aparato militar e político em defesa e patrocínio do país artificial. Apesar de saberem que Dimona era o epicentro de um programa de armas nucleares, as autoridades norte-americanas mantiveram essas informações longe do público por décadas.
Como uma potência nuclear não declarada até hoje, “Israel” desempenha um papel central na política nuclear do Oriente Médio, sendo o inimigo em comum dos povos oprimidos do mundo e de todos os povos árabes e persas. E sempre contaram com o apoio dos EUA para isso.